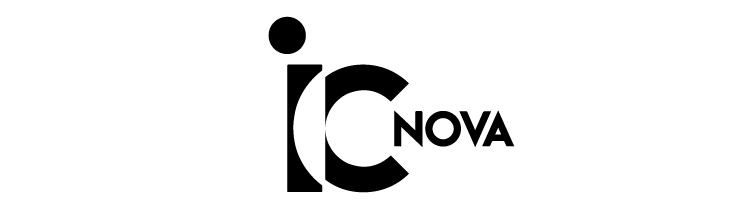Investigadora integrada do ICNOVA, Maria João Silveirinha é uma referência incontornável dos estudos feministas dos media. Entre várias “frentes” de investigação, coordena o projeto “O género nas pandemias de ódio: media sociais, Covid-19 e as mulheres jornalistas”, financiado pela FCT e que permitiu mapear o tipo de assédio online contra as mulheres jornalistas em Portugal, assim como analisar de que forma estas profissionais lidam com as ameaças e qual a resposta dada pelas organizações do setor.

A propósito deste projeto, atualmente em fase de finalização, o ICNOVA esteve à conversa com a investigadora. Em entrevista exclusiva, Maria João Silveirinha partilha alguns dos resultados da investigação, fala sobre os desafios que uma mulher jornalista enfrenta nos dias de hoje e de que forma o digital transformou práticas e exacerbou hostilidades existentes. Destaca, sobretudo, a importância do coletivo na proteção contra estas ameaças online: “nós, na academia, podemos trazer os dados, ouvir e dar sugestões, mas tem de partir das próprias organizações […], tem de ser algo coletivo”, defende.
Tem acompanhado e analisado, ao longo do tempo, a relação entre mulheres e media. Com que desafios se depara, atualmente, uma mulher jornalista?
Acredito que é um pouco mais fácil agora do que foi no início, quando as mulheres começaram a entrar na profissão. Era uma profissão muito masculina e foi difícil, sobretudo porque é um processo lento e as mulheres foram fazendo o seu caminho. Hoje, alguns problemas mantêm-se e surgem outros. Continua a haver um longo caminho a percorrer para se atingir, de facto, a paridade que gostaríamos que existisse na profissão – e, de forma geral, em toda a sociedade.
O contexto digital implicou que tipo de mudanças para o jornalismo e, especificamente, para as mulheres jornalistas?
O digital trouxe muitas transformações, obviamente, que têm de ser entendidas num contexto onde vários problemas se intercetam. O digital exacerba, digamos, alguns problemas existentes e transforma práticas, transforma relações com as audiências e transforma o quotidiano dos/as próprios/as jornalistas.
Cruza-se aqui, por exemplo, a dimensão dos discursos de ódio?
Sim. Um dos aspetos que se amplificou no cruzamento de várias outras variáveis foi, precisamente, algo que os/as jornalistas sempre sentiram: hostilidade para com o seu trabalho. O jornalismo denuncia os poderes, pelo que a hostilidade não é uma coisa nova. Mas, de facto, o digital potenciou e facilitou muito essa hostilidade contra os jornalistas e as jornalistas porque é muito mais fácil às audiências acederem aos/às profissionais. Claro que a participação já existia – lembrando, por exemplo, a questão das cartas ao editor que a professora Marisa Torres da Silva [investigadora ICNOVA, grupo Media & Jornalismo] sempre apontou –, mas hoje está profundamente transformada.
É mais do que dar uma nova forma a algo já existente?
Acredito que é mais do que isso, sim. Porquê? Porque este potenciar tem, mais uma vez, uma série de interseções com outros problemas. Não é só uma questão de acessibilidade aos/às jornalistas. Claro que é muito mais fácil chegar a quem escreve uma peça e deixar um comentário – e isto é muito diferente do que escrever uma carta ao editor. Mas é também o facto de que as próprias organizações noticiosas começaram a fomentar essa proximidade [entre profissionais e audiências], com uma certa ideia de que a visibilidade era quase imprescindível. Em certos aspetos essa proximidade de quem nos lê pode ser boa, e algumas das jornalistas que entrevistámos marcam esse aspeto. Mas essa visibilidade tem depois o seu reverso. E se as organizações não estão preparadas para proteger os/as seus/suas profissionais das consequências dessa visibilidade, então há um problema. Temos, por um lado, uma maior acessibilidade, uma cultura que incentiva essa visibilidade, mas sem haver contrapartidas, regulação ou proteção.
“O tipo de ataques é diferente na sua linguagem, no tipo de ameaças, nas suas consequências”
Mencionou as entrevistas a jornalistas, que fizeram parte do projeto “O género nas pandemias de ódio”. Quais foram os grandes objetivos deste projeto?
Partimos de uma literatura internacional cada vez maior e, também, de uma importante literatura nacional, nomeadamente a que é desenvolvida aqui no nosso Centro. Uma literatura que aponta, de facto, para estes problemas de hostilidade para com os/as jornalistas. Por vezes pode não ser propriamente um discurso de ódio, mas o que a professora Marisa Torres da Silva (e a equipa com quem trabalha) chama de “incivilidade”. Partimos dessa literatura e partimos de relatórios internacionais que apontam que este problema se coloca de formas muito particulares para as mulheres jornalistas. Essa literatura intrigou-nos: qual será a realidade em Portugal?
Refere que na literatura internacional era já notório que esta hostilidade se coloca de forma particular às mulheres jornalistas. Estamos a falar da frequência e do teor dos comentários online, por exemplo?
Tem sido feita investigação em imensos países, até com estudos comparativos entre vários países. Os dados relativamente à frequência não são sempre os mesmos. Na verdade, as mulheres podem até não receber mais ataques, mais hostilidade, mais incivilidade do que os seus colegas do sexo masculino. Mas o que acontece – e isso pudemos claramente confirmar na nossa investigação – é que o tipo de ataques é diferente na sua linguagem, no tipo de ameaças, nas suas consequências. Tudo aquilo a que optámos por chamar de questões do assédio online.
Como caracterizaria, então, este assédio online dirigido às mulheres jornalistas?
É um assédio sempre abusivo, sexista, agressivo, que pode ser sexual, pode ser mais ou menos violento. Pode ser acompanhado de ameaças que, de facto, podem transportar para o mundo offline. Mas que também pode ser menos agressivo. É muito variado. O importante é que este assédio está quase todos os dias na caixa [de comentários] dos jornalistas e, nestas formas particulares, na caixa [de comentários] das jornalistas. Isto é uma perturbação grande no seu quotidiano e que, dependendo das próprias características da jornalista, pode ter consequências bastante graves.
Que metodologias usaram no projeto?
Antes de mais, procurámos fazer um inquérito a jornalistas homens e jornalistas mulheres. Fizemos o inquérito com a colaboração da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e, dessa forma, mapeámos logo uma série de dados relativamente à situação do assédio a jornalistas em Portugal. Gostaríamos que o inquérito tivesse tido maior participação, mas pelo menos deu-nos pistas importantes sobre o panorama geral. Estabelecido esse panorama, fomos então ouvir as mulheres jornalistas para tentarmos perceber mais aprofundadamente a natureza destes ataques, as reações e as formas de viver com o problema.
Foi, portanto, a fase de entrevistas?
Exato. Entrevistámos 25 mulheres, com diversos níveis de experiência – entre os quatro e os 40 anos de experiência –, idades muito diferentes. Pessoas que trabalham no online, na televisão, na rádio. Tivemos uma excelente resposta e recolhemos dados muito interessantes.
E o que dizem esses dados?
Confirma-se aquilo que a literatura internacional diz, de uma forma geral: o tipo de ataques que é feito às mulheres jornalistas é específico, é um ataque de género. E pode ser profundamente perturbador para as suas vidas. É importante conhecermos esta realidade porque estamos a tentar perceber as especificidades do nosso país num contexto global. O panorama no mundo é muito complexo. Há países que têm maior ou menor liberdade de imprensa, nem todas as jornalistas estão igualmente vulneráveis à violência e há tipos de atores muito diferentes que instigam e legitimam esta hostilidade anti-imprensa.
Nesta complexidade global, como se caracteriza a situação de Portugal?
Somos, de facto, um país onde existe liberdade de imprensa, mas também confirmámos que existem ataques organizados, nos quais há atores que estão ali precisamente para dificultar a vida aos jornalistas e às jornalistas. E, como dizia há pouco, no caso das mulheres jornalistas são ataques de género, claramente.
De que forma é que isso se torna evidente?
Através da linguagem usada, por exemplo. O tipo de linguagem que é usado é claramente uma linguagem de género. Os homens não têm, por exemplo, ameaças de violação. A ameaça de violação é uma constante para uma mulher jornalista. E há também outro tipo de ameaça, muito ligado à ideia de maternidade e da mulher como cuidadora: ameaças como “eu sei em que escola andam os teus filhos” ou “eu sei onde moras”. Depois tentámos mais aprofundadamente saber onde está a vulnerabilidade das mulheres face a estes ataques e perceber quais os múltiplos fatores que criam uma maior vulnerabilidade. Esses múltiplos fatores são estruturais.
Que fatores são esses?
Todas as dimensões intersecionais que se cruzam com o género, por exemplo. Porque não é só o género. Pensemos no género e na idade: as mulheres jornalistas disseram-nos isso, mostraram-nos que, sendo mais novas, estão mais expostas a variadíssimos níveis. Ou o facto de ser uma jornalista negra. Mas há outros elementos além das dimensões intersecionais. A falta de paridade que existe, de forma geral, na profissão, por exemplo. As mulheres não estão ainda nos lugares de decisão, embora estejam praticamente a par dos seus colegas em números gerais. Se tivermos mais mulheres em lugares de decisão, é mais provável que haja maior sensibilidade para criar mecanismos de proteção contra este assédio e estas ameaças online.
“Importa não normalizar”
Falemos, precisamente, de proteção. De que forma é que as organizações protegem, atualmente, os jornalistas – e, especificamente, as jornalistas – destas ameaças?
As entidades não sabem e não estão suficientemente interessadas em desenvolver mecanismos de apoio e de prevenção para estes problemas. Várias jornalistas referiam isso nas nossas entrevistas. Mais ainda, encontrámos várias formas de normalização, que a literatura internacional também aponta. Mas não é normal. Um trabalho de um jornalista e de uma jornalista tem de ser livre. Têm de ter o direito de trabalhar…
…sem medo.
Sem medo, precisamente. Portanto, há que combater também este espírito de normalização que passa depois para as próprias entidades. O Sindicato dos Jornalistas tem promovido alguma discussão sobre este tema e a própria Comissão da Carteira Profissional está consciente destes problemas. Mas, na verdade, nada se materializa…
O que poderia ser feito para reforçar a proteção contra o assédio online, tendo em conta também os fatores estruturais que referia?
Fizemos um guia de boas práticas, integrado no projeto. É um guia baseado noutros guias, com consulta a imensa literatura e que nasce também da continuação do que fomos ouvindo na nossa investigação. Diria que uma das principais práticas é que cada órgão de comunicação tem de ter alguém – ou um grupo de pessoas – com formação e absolutamente disponível para ouvir os/as jornalistas nestes casos e para dar seguimento, se necessário. Dentro das próprias organizações devem existir mecanismos de apoio sérios. Apoio psicológico, apoio legal, por exemplo. E, sobretudo, importa não normalizar. Depois, é necessária maior regulação. Os/as jornalistas não podem estar entregues a si, naquela estratégia de “bloquear, apagar, silenciar”.
Até porque aí o ónus está apenas nos próprios jornalistas…
Exatamente. E não há formação para isto. As entidades jornalísticas, a Comissão [da Carteira Profissional] e o Sindicato [dos Jornalistas] têm de se envolver mais, têm de desenvolver mais esforços.
Que boas práticas internacionais podem servir de exemplo?
Em Inglaterra, por exemplo, há organizações que se juntaram e que têm mecanismos próprios para lidar com estes problemas. Há muito bons exemplos. Mas o que é preciso é começar a levar estas coisas mais a sério, sem estar à espera do dia em que haja qualquer coisa de muito visível e muito grave. Porque por vezes pode não ser visível, mas é suficientemente grave para quem passa por isto. Nós falámos com jornalistas que estão profundamente deprimidas.
Em que fase se encontra atualmente o projeto?
Na fase de finalização. Estamos ainda a escrever e esperamos contribuir, em breve, com ainda mais literatura, nomeadamente sobre entrevistas. Estivemos em muitos congressos onde ouvimos muitos/as colegas falar sobre estas questões. Foi muito produtivo, desse ponto de vista, e é um projeto que gostaríamos de expandir, até para percebermos melhor estas dimensões mais estruturais, de género, na violência contra jornalistas.
Na sua perspetiva, os órgãos de comunicação social estão disponíveis para ouvir os resultados deste tipo de projetos, de forma a implementar algumas mudanças?
Infelizmente, há muita dependência de pessoas individuais, de jornalistas que estão mais recetivos/as a estes problemas, porque os sentem. Estas pessoas podem fazer muita diferença, mas a própria classe tem de se mobilizar. Nós, na academia, podemos trazer os dados, ouvir e dar sugestões, mas tem de partir das próprias organizações. As organizações jornalísticas, a própria ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social], todas as organizações que digam respeito a jornalistas deviam criar conselhos, formas de se organizar para ouvir estas pessoas, dar seguimento aos problemas. E para ver se, por exemplo, é possível criar alternativas a ter os comentários no Facebook. Há alternativas? O que se pode fazer? Isto tem de ser algo coletivo.