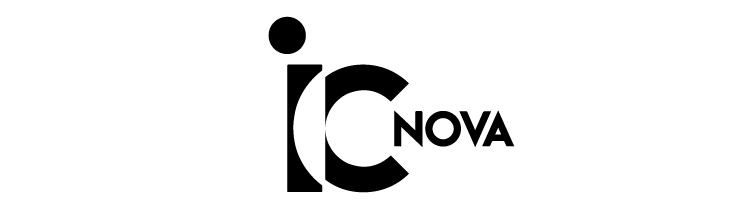Na madrugada do dia 25 de Abril de 1974, os jornalistas portugueses acordaram para uma realidade que se transformava à frente dos seus olhos. O golpe militar e o fim do Estado Novo abanaram todas as estruturas da sociedade – e o jornalismo não foi exceção.
Como era o jornalismo que foi desafiado para fazer a cobertura de uma Revolução histórica e que impacto teve o 25 de Abril na profissão? Carla Baptista, investigadora do ICNOVA, especialista em história dos media e do jornalismo, traça o retrato do jornalismo português antes, durante e após o golpe militar de 1974. A instabilidade do pós-25 de Abril gerou um período único – intenso, comprometido e criativo – para os media nacionais.
A poucos meses da realização do AsHisCom 2023, o congresso internacional da Associação de Historiadores da Comunicação, Carla Baptista reflete também sobre a importância de reforçar a investigação nesta área e de não esquecer o contributo do jornalismo na construção da memória histórica, essencial para a cidadania.
Comecemos por olhar para o pré-Revolução. Como podemos caracterizar o jornalismo português durante o Estado Novo?
Essa questão abre logo uma polémica que divide a forma como os investigadores olham para o jornalismo durante regimes autoritários, como foi o nosso. Para alguns, não existe jornalismo sem democracia. Sem liberdade de imprensa, o jornalismo é sempre uma atividade de propaganda submetida aos interesses da ditadura.
Partilha dessa opinião?
Acredito que é possível haver jornalismo mesmo em ditadura, reconhecendo obviamente as enormes limitações que a censura impõe ao jornalismo, tal como aconteceu em Portugal durante mais de 40 anos. Ainda assim, talvez pelas características da censura em Portugal e porque a política de informação assentou mais em nivelar o discurso através do instrumento da censura prévia do que em acionar uma máquina de propaganda – embora esta existisse nos momentos de crise do regime –, sobreviveu alguma diversidade na imprensa e uma capacidade dos jornalistas para abordarem temas que não estavam diretamente relacionados com a prática política, ou com o escrutínio das instituições políticas.

Havia, portanto, alguma margem para fazer jornalismo em Portugal?
Diria que foi possível fazer jornalismo – e fazer bom jornalismo – nas editorias da cultura, da sociedade, do internacional, até do desporto. Isso é fundamental para diferenciar o caso português. Mas também nos dá a nós, investigadores, uma consciência de que a ditadura não foi sempre igual. Estamos a falar de mais de 40 anos, com décadas muito diferentes entre si. Temos de nos aproximar daquilo que queremos estudar, isso é muito importante para analisar depois a forma como os jornalistas reagem a uma rutura também brutal e muito holística, no sentido em que balançou as estruturas da sociedade e do jornalismo. Refiro-me, claro, ao 25 de Abril.
Falemos, então, da madrugada do 25 de Abril de 1974 e do longo dia que se seguiu. O que se destacou na cobertura jornalística ao próprio golpe militar?
É uma história bastante extraordinária. Quando começamos a falar com jornalistas e a perguntar “onde é que estava no 25 de Abril?” – a famosa pergunta do jornalista português Baptista Bastos – percebe-se que havia uma rede de pessoas que já estavam ligadas à oposição e que iam tendo alguma informação. Não sabiam quando ia ser o golpe, mas sabiam que estaria iminente.
Os jornalistas estariam, de certa forma, a postos?
Sim, muitos jornalistas foram acordados às 5h, às 6h, às 7h da manhã, sintonizaram-se imediatamente com aquela realidade e conseguiram interpretá-la. Houve logo uma identificação da importância dos acontecimentos e da necessidade de ir cobrir o que se passava, de ir para a rua e para os sítios estratégicos. É extraordinário reconstruir essa corrente elétrica de informação dispersa que começa a unir pessoas e muitos jornalistas. O que vemos entre os jornalistas é essa consciência de que era algo muito importante, aguardado com muita esperança e à qual vão aderir imediatamente.

em: 25 abril 40 anos – Os dias da Revolução na Imprensa Portuguesa,
publicação do GEO – Grupo de Estudos Olisiponenses
Que casos emblemáticos marcaram essa cobertura jornalística?
Todos os jornais generalistas, sem exceção, fizeram três, quatro, cinco, até seis edições. Houve chefes de redação que não dormiram durante duas noites. O fluxo de informação era ininterrupto e todos tinham a noção de que não se podia parar de contar o que estava a acontecer. Adelino Gomes, afastado da Rádio Renascença, foi para a rua fazer as entrevistas que acabaram por se tornar históricas – incluindo ao Salgueiro Maia – com um microfone emprestado por colegas do Rádio Clube Português. Os dois grandes fotojornalistas do 25 de Abril, Eduardo Gageiro e Alfredo Cunha, ambos trabalhando para o jornal O Século, passaram o tempo a correr entre a rua e a redação para revelarem as fotografias e conseguirem cobrir o máximo de locais e protagonistas.
A exceção é a RTP…
A televisão é um caso particular. A RTP não filmou o 25 de Abril porque não foi permitido a nenhuma equipa sair, os militares controlaram quem saía e quem entrava nas instalações, na altura ainda no Lumiar. A equipa da RTP, constituída pelo operador de câmara João Rocha e pelo assistente, saiu já depois das pelas 16h, sub-repticiamente, e captou as primeiras imagens oficiais de televisão, poucos minutos antes da rendição de Marcelo Caetano no quartel da GNR no Largo Carmo e a sua retirada para a Pontinha, onde ficou detido. Mas, nos dias seguintes, a RTP mergulhou de cabeça no 25 de Abril e transformou-se ela própria num ator político da revolução.
A cobertura internacional do Abril português
Além desta cobertura nacional, o 25 de Abril foi também amplamente noticiado nos media internacionais. Como é que a informação circulou tão rapidamente?
Esse é um dos aspetos que merece ser mais bem investigado. As principais agências noticiosas internacionais estavam em Lisboa. A France-Presse, a Reuters, as agências americanas, a espanhola EFE, assim como os principais jornais europeus e a revista Time tinham correspondentes no país. As agências foram determinantes para passar a informação para o mundo. A Espanha, que nessa altura ainda era uma ditadura, seguiu com muita atenção o caso português. Investigadores portugueses, como a Rita Luís [do Instituto de História Contemporânea], têm estudado como a transição espanhola para a democracia foi influenciada pelo medo de que pudesse ocorrer em Espanha uma rutura revolucionária como a portuguesa.

em: 25 abril 40 anos – Os dias da Revolução na Imprensa Portuguesa,
publicação do GEO – Grupo de Estudos Olisiponenses
A informação passou – e o interesse gerado na imprensa internacional foi muito grande.
Houve uma resposta incrível. Uma semana depois do golpe, no 1.º de Maio, já temos em Portugal dezenas de jornalistas estrangeiros dos principais jornais europeus e americanos. A imprensa internacional faz essa leitura de que a Revolução portuguesa era um acontecimento mediático de uma importância extraordinária. Estava muita coisa em jogo. Portugal era dos poucos países europeus que permanecia uma ditadura e havia a questão da descolonização. Não era só o que estava a acontecer em Portugal, mas como iria repercutir numa série de países ainda sob o domínio colonial português.
A forma como a Revolução decorreu contribuiu para este interesse internacional?
Sim, foi um autêntico enamoramento. Para Portugal convergiu uma procissão de observadores recrutados em contextos muito diferentes, e que também tentam influenciar o processo. Uns são pessoas de esquerda, marxistas e pós-marxistas, estão fascinados com o processo revolucionário e simpatizam com os ideais. Outros são mandatados por regimes democráticos com orientação mais à direita, designadamente alemães e norte-americanos, esses estão cheios de medo de que Portugal se torne uma ditadura comunista controlada pela antiga União Soviética. Hoje sabemos que todos os partidos portugueses desta altura receberam muito apoio internacional. Claro que essa movimentação política se traduziu num enorme interesse mediático por parte de vários países.
Pós-25 de Abril: a instabilidade que permitiu pensar os media e o papel dos jornalistas
Estes movimentos à esquerda e à direita são muito importantes no processo que se segue no pós-25 de Abril, com impacto no jornalismo. A figura do jornalista-revolucionário tornou-se transversal nos meios de comunicação?
Tal como muitas vezes olhamos para o período antes do 25 de Abril com um olhar um pouco grosseiro, porque queremos abarcar tudo, nesta fase também se cometem os mesmos erros. Há essa ideia de que os jornalistas se tornaram todos militantes, num sentido de engajamento partidário, de fusão entre o que eram os interesses políticos e a cobertura jornalística.
Não concorda com essa visão?
A minha tese é diferente. A maioria das pessoas olha para a instabilidade que se seguiu ao 25 de Abril como algo negativo e que impactou negativamente os jornalistas. Há muitos casos sonantes, como o caso do jornal República, a ocupação da Rádio Renascença, as tentativas de ocupação da RTP e o facto de a RTP ter tido uma administração militar formalmente até 1979. Isto tudo é verdade. Ainda assim, a profunda divisão que se instalou e o facto de o poder estar muito repartido e não pertencer, na verdade, a ninguém, levou a que talvez tenha sido o período mais democrático que tivemos, do ponto de vista de pensar os media, a sua função na sociedade e o papel dos jornalistas. Isso foi vivido com uma intensidade e com um compromisso que se traduziu em trabalhos jornalísticos notáveis.
Quase como a ideia de uma tela em branco?
Foi a ocupação de um espaço vazio que se abria ali e que era preciso preencher com uma ideia de jornalismo, uma ideia de sociedade e uma ideia de poder. Na política, apesar de tudo, havia referentes internacionais para as diferentes configurações políticas, que ajudaram a forjar os modelos e os perfis emergentes. Esses referentes não existiam para o jornalismo.
Mas existiam jornais que seguiam, assumidamente, referências internacionais.
Os projetos jornalísticos mais emancipadores e inspiradores que existiam em Portugal – o Expresso, o Diário de Lisboa, e o República numa versão pobre, mas combativa – deixaram de conseguir dar resposta. Já não serviam numa situação completamente disruptiva, na qual as fontes de informação se inverteram, assim como as relações de poder e as prioridades. Foi preciso encontrar qualquer coisa de novo. Podemos dizer que, se a génese da democracia portuguesa nasce no 25 de Abril, como escreveu o historiador Fernando Rosas, também a génese do moderno jornalismo português nasce no 25 de Abril.
As fronteiras não se esbatiam entre este compromisso para pensar o jornalismo e o compromisso político?
Não vejo esse período como só de instrumentalização, de tentativa de controlo, de ocupação, de transformar os jornalistas em funcionários dos partidos. Vejo, sobretudo, como um tempo de descobrir uma função e uma missão para o jornalismo. Acredito que esse movimento e essa dinâmica foram suficientemente fortes para ter criado resistências, para que o jornalismo não se tivesse tornado nem totalmente propagandística, nem totalmente ao serviço de um projeto ideológico com uma configuração político-partidária.
A construção de um novo quadro legal e o “período mais criativo do jornalismo”
Nesta lógica de ocupação de espaço vazio, é também preciso criar uma moldura institucional e regulatória que não existia, contemplando necessidades como a Lei de Imprensa ou um Código Deontológico para jornalistas. Como foi este processo?
Umas avançaram mais depressa do que outras. A parte que dependia mais da iniciativa governamental avançou muito rapidamente, sobretudo a questão do enquadramento legal e da Lei de Imprensa de 1975 – muito importante porque acabou com a censura, criou o Conselho de Imprensa e criou novos direitos e deveres para os jornalistas. O que dependia mais da autorregulação dos jornalistas avançou mais devagar. Essa característica mantém-se, aliás, ainda hoje. A comunidade profissional dos jornalistas portugueses sempre teve défices de autorregulação. O primeiro Código Deontológico é de setembro de 1976, aprovado em assembleia do Sindicato dos Jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas foi, aliás, o grande promotor destas iniciativas de autorregulação e dos primeiros congressos dos jornalistas. Era o coração da profissão, de onde partiam as iniciativas mais importantes.
Em termos de técnicas e práticas jornalísticas, qual o impacto da Revolução e do período que se seguiu?
É o período mais criativo do jornalismo. Experimentam-se novos formatos, géneros, narrativas, storytelling, agendas editoriais… Há uma massa crítica nova que chega à profissão e que encontra um contexto muito livre e favorável à experimentação e ao exercício criativo.

em: 25 abril 40 anos – Os dias da Revolução na Imprensa Portuguesa,
publicação do GEO – Grupo de Estudos Olisiponenses
Há, portanto, mais pessoas interessadas em fazer jornalismo?
Sim, o 25 de Abril teve um impacto enorme no alargamento da comunidade jornalística. O número de jornalistas duplicou. Criaram-se muitos jornais a seguir ao 25 de Abril. Os grandes empregadores – a rádio pública e a televisão pública – despediram algumas pessoas no âmbito dos processos de saneamento, mas recrutaram três vezes mais. Esta massa crítica trouxe uma nova energia, alguma experiência (até porque regressam vários jornalistas que tinham sido afastados) e trouxe capacidade de decisão porque agora essas pessoas ocupam lugares de chefia. Na RTP isso é muito visível.
De que forma?
A televisão foi uma espécie de refúgio para muita gente, incluindo muitas pessoas ligadas ao cinema. Beneficiou de uma mistura de linguagens criativas que passam a ser incorporadas em conteúdos, reportagens e programas jornalísticos. Houve também o nascimento do jornalismo de investigação em televisão, que passou a fazer-se com outra maturidade e de uma forma muito questionadora da sociedade e da política.
Com que características?
É um jornalismo de investigação com novas ferramentas e linguagens, que se debruça sobre outros sujeitos, a antítese do jornalismo sedentário. É um jornalismo imersivo, cru, que dá muita voz às pessoas, que procura compreender e desvelar realidades complexas de trabalho e de educação, os temas prioritários da revolução. Isto nunca mais se repetiu, sobretudo se compararmos com o jornalismo que temos hoje, tão dependente de conteúdos ready made. Nesta perspetiva, esse período foi muito refrescante.
A importância da memória histórica “para a própria cidadania”

em: 25 abril 40 anos – Os dias da Revolução na Imprensa Portuguesa,
publicação do GEO – Grupo de Estudos Olisiponenses
Estamos a falar de um dos períodos mais marcantes para a profissão e, como referiu, uma espécie de “génese” do jornalismo português. Quão importante é aprofundar a investigação nestes temas?
Parece-me não só importante, mas também importante que seja uma investigação feita por pessoas com uma sensibilidade próxima das ciências da comunicação. Ou seja, não olhar para estas coberturas jornalísticas e mediáticas apenas como fontes históricas, que é muitas vezes a forma como os historiadores as usam, de uma forma extrativa. Não estou a dizer que todos os historiadores façam isto, mas não têm normalmente uma sensibilidade tão grande para as dinâmicas comunicativas, não as pensam como elementos estruturantes dos processos sociais e políticos. A memória histórica não é estática, e tem de ser apreendida numa perspetiva evolutiva, dinâmica e conflitual.
Tenho a certeza. Não só dos próprios jornalistas, como das pessoas em geral sobre o jornalismo. Conhecem pouco o papel do jornalismo nos processos históricos. A memória histórica é fundamental para a cidadania, para a identidade coletiva, mas também para perceber a centralidade dos media nestes processos. Essa consciência permite-nos tornar mais críticos em relação àquilo que são os conteúdos mediáticos, resistir melhor à desinformação contemporânea. Ser capaz de ler criticamente os media integra uma cidadania plena e não vejo como possa realizar-se sem conhecer a potência do jornalismo na história.
Coordena a comissão organizadora do congresso internacional da Associação dos Historiadores da Comunicação, o AsHisCom 2023, que decorrerá em Lisboa, em setembro. O que podemos esperar do congresso, neste sentido das ligações entre memória histórica, transições democráticas e dinâmicas dos media?
Esse é mesmo o tema do congresso – Comunicação, História e Memória. Quando o discutimos com a direção da AsHisCom, uma associação que reúne académicos da América Latina na área da História e das Ciências da Comunicação, quisemos criar um espaço de reflexão sobre o passado e de ação sobre o presente. Vai ser uma oportunidade fantástica para percebermos como a nossa história tem mais coisas em comum do que aquilo que a distância geográfica, cultural ou a especificidade dos processos políticos e sociais poderiam fazer pensar. É um congresso que vai conectar experiências e criar pontes e redes de suporte, que é o que mais precisamos nos dias que correm.