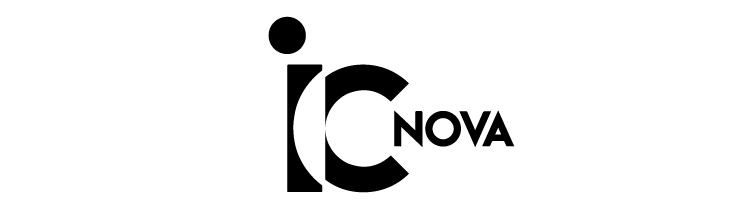Professora associada da Universidade de Falmouth (Reino Unido), Abigail Wincott trabalhou como jornalista e produtora de áudio durante 20 anos, incluindo para a BBC World Service. Em entrevista exclusiva, a investigadora aborda os temas que guiam atualmente a sua investigação: desafios e oportunidades da utilização do áudio espacial no jornalismo sonoro.
Ainda que as tecnologias de áudio espacial estejam cada vez mais acessíveis e disseminadas, Abigail Wincott reforça que apenas uma minoria de programas generalistas é atualmente feita nestes formatos. O imersivo ocupa, nesse sentido, um lugar que é tanto de mainstream, como de nicho, considera. Ao longo da entrevista, a investigadora reflete ainda sobre a necessidade de explorar o desconforto para inovar e sobre o papel das emissoras de serviço público na adoção do áudio espacial.

Abigail Wincott foi keynote speaker na INN 2023 – I International Conference on Media Innovation, evento organizado pelo Obi.Media – Observatório da Inovação nos Media / ICNOVA e que decorreu de 1 a 3 de fevereiro na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.
Comecemos pela terminologia: como definiria áudio espacial? Na sua perspetiva, é um conceito idêntico ao de áudio imersivo?
Defini-lo-ia apenas como qualquer formato tecnológico em que, quando alguém o ouve, o som parece acontecer à sua volta, não apenas à sua frente, ou na sua cabeça. Diria, por isso, que áudio espacial é o mesmo que imersivo, é o mesmo que tridimensional, ou qualquer outro termo que se queira dizer. Mas sei que nem todos usam o conceito dessa forma. Quando estava a entrevistar pessoas para o meu projeto [de investigação sobre o uso de áudio espacial em jornalismo sonoro], perguntava “como definiria?” e “são [conceitos] diferentes?”. Todas diziam que o imersivo era algo diferente do espacial ou o que imersivo não era o mesmo que 3D, mas todas tinham motivos diferentes para afirmar isso – e nenhuma concordava com as restantes. Algumas pessoas diziam, por exemplo, que o áudio espacial é quando o som sai de colunas dispostas à nossa volta. Outras pessoas diziam o contrário, que isso seria imersivo. Outras ainda diziam que era outro conceito: som surround multicanal. Portanto, utilizam [as definições] de forma muito diferente.
Isso deve-se à tal falta de um vocabulário comum partilhado sobre formatos imersivos, que é uma das conclusões da sua investigação junto de produtores e jornalistas?
Talvez seja isso, mas não tenho a certeza. Penso que, primeiro, temos de perceber o que é importante para nós, antes de sabermos para o que é que queremos palavras. O pessoal técnico, como os engenheiros de som, tem claramente o seu próprio vocabulário. O que, por vezes, implica dizer “áudio espacial é isto, mas o que ouvimos aqui é outra coisa”. Algumas pessoas chegaram a dizer [nas entrevistas]: “nem quero utilizar essas palavras, só as uso para que outras pessoas possam perceber o que estou a dizer, mas na verdade são muito desadequadas”. Entrevistados muito técnicos diziam-me que procuravam sempre especificar: [por exemplo] “isto é um formato ambisónico”, “isto é som surround5.1″, “isto é binaural”. Defendem muito o ser específico, ser preciso, porque é algo que, para eles, é realmente importante. E o que é importante quando estamos a falar de um documentário radiofónico ou de um drama radiofónico? Não sei, porque não tenho a certeza de que saibamos realmente o que importa para nós. Por isso é que eu apenas uso os termos “espacial” ou “imersivo”, sem fazer distinções entre eles.
Como surgiu o seu interesse em áudio espacial?
Ensinava jornalismo na universidade e apenas pensei que deveria manter-me atualizada sobre o que se estava a passar, numa altura em que o jornalismo imersivo era o grande tema de que todos falavam, era uma área na qual as empresas de comunicação social estavam a anunciar investimentos. Comecei a ler artigos sobre o tema e quase que a “traduzi-los” para o universo da rádio. Às vezes estas conexões eram muito óbvias, mas noutras vezes era algo completamente diferente, sobretudo com o visual. Lia, por exemplo, que se tratava da passagem de um ecrã plano para algo que é imersivo. E eu não parava de pensar: “mas o som nunca foi plano, o que é que nós temos no áudio?”. Lia também como [o imersivo] ia influenciar o formato dos diferentes géneros jornalísticos. O jornalismo televisivo tem muitos aspetos semelhantes ao radiofónico: existe um apresentador que une tudo, que faz a passagem de um tema para o outro. Mas em VR não se faz isso, de todo, porque é completamente interativo, não existe mais linearidade. E eu pensava: “teremos isso no som?”. Não consegui encontrar trabalhos sobre isso, apenas investigação na perspetiva da engenharia de som. Foi por isso que quis fazer algo sobre este tema.
A inovação no som tem claramente impacto nas narrativas e no storytelling. É também algo que está a mudar o papel dos engenheiros de som, assim como o papel dos jornalistas e produtores?
Penso que sim. Na prática, aconteceram duas coisas, que aparentam ser contraditórias. A primeira é que assistimos a muitos cortes no investimento em produção de áudio ao longo de décadas, o que significa produtores polivalentes que têm de fazer tudo. Isso aconteceu na televisão, também. Na televisão, temos o jornalista que é também operador de câmara e operador de som. Cheguei à produção de rádio numa altura em que fazíamos tudo. Editávamos o nosso próprio áudio, gravávamos, pensávamos no que queríamos, planeávamos, investigávamos, entrevistávamos pessoas, escrevíamos, apresentávamos. Tudo nós próprios. Desinvestiram em muito do pessoal técnico que trabalhava com os jornalistas. Contudo, ao mesmo tempo, estamos agora a ver, por vezes, um ligeiro crescimento desse lado técnico. Nos últimos anos, os documentários sonoros começam a ter créditos finais que incluem sound designer, por exemplo. E isso é relativamente novo. Talvez seja o início de um reconhecimento, de uma expansão. Mas expandir custa dinheiro, pelo que não sei se lá chegaremos.


© Bárbara Monteiro
O áudio espacial já é algo mainstream? Ou ainda estamos a falar de nichos?
Diria que se torna mainstream, e isso é o que tem acontecido nos últimos 15 anos. Isto porque algumas tecnologias se tornaram baratas de produzir e o equipamento está mais barato do que alguma vez foi. A gravação binaural e a mistura binaural são muito fáceis de aprender – se souberes misturar som, podes fazer binaural. E as pessoas ouvem em auscultadores, portanto é possível controlar como é feita a receção. Portanto sim, eu diria que é mainstream, mas há um desfasamento. Por um lado, temos as pessoas muito técnicas e muito artísticas que estão a fazê-lo há anos e anos. O que falta é como tornar [o áudio espacial] generalizado em programas populares do dia a dia, como um documentário ou programas noticiosos. Diria que é mainstream, mas ainda é muito de nicho, no sentido em que apenas uma pequena minoria de programas tem sido feita nesses formatos. Ou seja, o áudio espacial é, ao mesmo tempo, mainstream e de nicho.
Afirmou, na sua apresentação na INN 2023, que não pode haver inovação sem desconforto. É este desconforto que está a faltar para que o áudio espacial seja mais disseminado? Como podemos abraçar o desconforto?
É definitivamente algo que todos deveríamos estar dispostos a tentar. Mas as pessoas não estão a pensar que isto é desconfortável [para as audiências] e que, por isso, devem rejeitá-lo. Não se trata disso. Tudo é feito à pressa e, por defeito, queres que as pessoas gostem do teu trabalho, queres que o teu editor adore, queres que as tuas audiências adorem, que oiçam e falem a outras pessoas sobre o que fizeste. Não tens tempo para pensar nestas questões e nunca ninguém te apontou “já reparaste que estás constantemente a recusar que os teus ouvintes fiquem desconfortáveis?”. Portanto, porque pensarias nisso? Eu tive tempo para pensar sobre isso porque sou investigadora, mas demorei muito até perceber que havia esta recusa de colocar as audiências numa posição desconfortável. Se os produtores de conteúdo se tornarem conscientes destas questões, cabe-lhes perceber o que fazer com isso – e podem querer experimentar um pouco com o desconforto das audiências e com o seu próprio desconforto.
Trabalhou mais de 20 anos na BBC. Qual é o papel das emissoras de serviço público na inovação? Devem ser os primeiros a experimentar e a abraçar o risco?
É também uma forma de justificar a sua existência continuada. Enquanto emissora de serviço público há que fazer conteúdos com qualidade. Mas também existe essa ideia de serviço através da investigação e desenvolvimento. Acredito que muitas emissoras de serviço público também veem essa componente como parte do seu papel. E há também imperativos comerciais atrás disso. Os gestores dessas organizações também estão a pensar “o que vem a seguir?” e, de cada vez que uma nova tecnologia surge, “se não a adotarmos, quem é que vai [adotá-la] ou como é que competimos nesse mercado?”. Portanto, a motivação é, em parte, competitiva e, em parte, serviço público. Por isso é que contratam engenheiros de som e trabalham com investigadores externos. São estas as duas motivações.